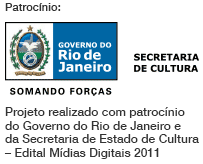Muito se fala sôbre a crise (ou até a morte) do cinema, num período de impasse, como o atual. É preciso examinar o problema. Não se trata - e isto se vislumbra ao primeiro relance - de uma crise estrutural, não está em jôgo o cinema como forma de linguagem ou na sua capacidade de propiciar informações estéticas originais. A crise do cinema não pode ser discutida de maneira idêntica como se enfoca a crise do romance (como já a prefigurara Joyce, ao fazer Finnagan's Wake), ou a da poesia discursiva (como já foi dissecada pelo movimento concreto), da pintura como objeto único (face à evolução imensa das artes gráficas, do desenho industrial e dos modos de reprodução em massa). O seu impasse (que vem dando dores de cabeça aos produtores) diz mais respeito à comunicação do que à informação, ou seja, ao suporte para os veículos ou aos próprios veículos em si (dimensão da tela, meios de projeção etc.). A questão se coloca em puros têrmos de canalização de um público, em relação aos investimentos de produção. E é claro que isto, por seu turno, virá influir na informação estética, porém, somente no sentido quantitativo, ou seja, nas maiores ou menores oportunidades que a estatística registra de se realizar uma obra incomum.
As estatísticas mostram que existe, em quase tôdas as partes do mundo, uma nítida queda percentual de espectadores para as salas de projeção. Não é evidentemente por saturação, dado que a evolução material e estêtica do filme é até muito mais galopante do que aquelas das outras formas de criação. Aí é que, então, entra a TV; e o lazer.
Além das tendências naturais para sobreviver ao nível biológico (e, nisto, incluem-se as atividades sexuais), os objetivos humanos oscilam entre o lazer e a criação (compreendendo com isto, não apenas a arte - aliás, o cinema não é mais arte, artesanato, e, sim, uma modalidade criação industrial - mas qualquer maneira de exercício do poder). A ida ao cinema implica na saída de casa. De um modo geral, nos núcleos urbanos mais desenvolvidos, isto, até por paradoxo, também implica numa pequena odisséia do cotidiano. Acredito que o preço dos ingressos representem uma fração pequena do desestímulo; mas há o tráfego, o estacionamento, filas, poluição, o acaso de algum aborrecimento extra, a começar pelo maior ou menor desconfôrto das instalações de uma sala de projeção. Enquanto isso, a TV está ali, dentro de casa - é só apertar o botão - vê-se e ouve-se muita tolice, porém, isto também faz parte do lazer. E há o próprio cinema de ficção no vídeo, programas intermináveis, embora a visão seja precária, se comparada com a tela de uma sala de projeção regular, embora a dublagem danifique seriamente o contexto informacional. Aquêles que fazem a opção por um veículo mais cômodo, apesar de menos poderoso, pesam fortemente na balança de freqüência cinematográfica.
Entretanto, por ser simplesmente de natureza material, a crise prefigura-se passageira até o momento em que o próprio e incessante desenvolvimento tecnológico do cinema e seus veículos de suporte permita uma solução. Fala-se, inclusive, na possibilidade de se produzir cinetapes, quando então, tal como um livro, o consumidor viria a adquirir a fita para tê-la em casa, em condições de projeção particular ao seu bel-prazer. Aí, sem prejuízo da TV, e dependendo do preço, o filme também "invadiria os lares", em estréias ou pré-estréias. Note-se, contudo, que a fruição intimista de um filme elide um dos seus fatôres comunicativos mais destacados, ou seja, a capacidade de desfechar a catarse coletiva. Assistir a uma fita sozinho, ou mesmo au petit commité, em matéria de absorção de efeitos, não é igual a assistir dentro de um auditório, ao lado de centenas de pessoas. Mormente na comédia.
Em suma, o paradoxo final. Embora a chamada crise do cinema não se configure como uma crise de linguagem, ela criou condições para que se atue de modo diverso sôbre a própria linguagem do filme. A diminuição de público, conduz paulatinamente o nível econômico das produções a duas tendências radicais: de um lado, o concentrar nas superproduções, onde o aspecto técnico altamente espetacular (cinerama, 70mms, faixas estereofônicas, grandes atôres, tomadas arrojadas etç.), seja chamariz capaz de desligar boa parte dos aparelhos de TV ou adiar outras manifestações de lazer mais simplórias; de outro, o incremento experimental, do underground ao filme de vanguarda, ou, meramente, de contestação política aos sistemas. O fenômeno parece ter uma explicação lógica: a queda eventual de público faz com que também diminua a quantidade das chamadas produções de linha, que é o feijão com-arroz comum dos grandes centros: Hollywood, Inglaterra, Japão, Itália, França etc. O filme ou é muito caro ou muito barato; não são desejáveis os risco com o meio-têrmo. Pode-se realizar o filme arte para um público pequeno, porém, fiel. Ressalta-se, no entanto, que o contrário ocorre nos centros menos desenvolvidos, dada uma especificidade com o público e as questões de língua. Como há a impossibilidade tecnológica das grandes superproduções, em países como o Brasil, por exemplo, o público acorre muito mais a realizações modêlo Os Paqueras do que ao último grito do cinema nôvo.
O ideal seria a conciliação da obra de vanguarda com a superprodução. Mas isto é difícil, dados aos fatôres econômicos. Na União Soviética, dadas às características do regime pré e anti-estalinista, isto foi possível na época de Eisenstein, Pudovkin e outros. Chaplin foi um caso à parte, sendo êle, inclusive, proprietário de suas produções em longa-metragem. No mais, fora daí, só há dois grandes exemplos de salto qualitativo de renovação estrutural, no âmbito das produções caras: Cidadão Kane (1941), de Orson Welles, e 2001: Uma Odisséia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick.
Mas a própria existência de 2001 evidência, por sua vez, que o cinema, como forma de criação industrial, está longe de permanecer em crise. Apenas, dadas às condições sócio-econômicas, o esfôrço de informação original só em casos excepcionais encontra o apoio dos melhores recursos materiais possíveis, ainda havendo a hipótese do fracasso. Quanto à TV, maiores que venham a ser os seus recursos, nem no ano 2001 chegará à altura de Kubrick.
A luta do verdadeiro cineasta é muito maior do que aquela do escritor ou do artista: antes de se dar ao luxo de chegar à angustia ou ao impasse mallarmaico, tem que sapear na luta inglória pela obtenção do instrumento adequado, tem, depois que se organizar para administrar o trabalho em equipe e as máquinas.
Correio da Manhã
29/04/1970