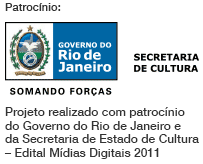Diferente da angústia, da inquietação, do sofrimento, a nostalgia (do grego nostos + algos = retorno + dor) pode ser entendida como um estado de espírito quase preconcebido, programado - uma espécie de culto, montagem espiritual de um jardim de tristeza. O seu objeto é o passado; e o presente é o exílio do já acontecido, que gera essa melancolia peculiar até o momento da chegada de um fato novo capaz de superar a consentida letargia.
Observe-se também que a nostalgia não é apenas existencial; ela pode ser cultural, ou seja, a nostalgia de um passado não vivido. E é com base, principalmente, neste segundo aspecto, que se torna lídimo perceber, na fase atual, a institucionalização da nostalgia. E alguns dos meios dessa institucionalização representam exatamente a faixa dos mais poderosos quanto à criação ou comunicação: o cinema, a televisão e o disco.
No âmbito fonográfico, principalmente em matéria de música popular norte-americana, reedita-se quase tudo entre as décadas de 1920 e 1950: é o charleston e Paul Whiteman, Dick Powel e Alice Faye, Artie Shaw e Fred Astaire, etc.; na França, há toda uma série dedicada aos períodos do caf cone e do music hall, onde se é possível deliciar com os primitivos de Maurice Chevalier e com Josephine Baker ou Mistinguett. Tais gravações sempre existiram com parcimônia, a fim de atender a estudiosos e colecionadores. Mas, agora, aumentou a onda, com a nostalgia, seja moda para uns ou reflexão séria para outros.
As indagações parecem ser muitas diante dessa vaga que chega ao ponto de, nos Estados Unidos, estimular a produção ou reedição de revistas, com artigos, ilustrações, diagramação e anúncios do passado. Em primeiro lugar, quanto ao que ocorre na área estrita da criação (o cinema), já não é só o artista, o inventor, que duvida do seu instrumental e reinvoca o passado. Porque temos de ir a áreas mais amplas, com perguntas mais radicais. Não será a dúvida sobre os valores do presente e nos jogou para a solidez do passado? Aliado a isto, não será também o horror do futuro (maquinização, bombas, poluição, etc.), cerceando as hipóteses de otimismo? Estamos em época de transição - valores e ideais sacudidos - e a última esperança é de que até a própria lei da relatividade é relativa. Pois o homem, parece, sempre busca, ou mesmo necessita, de coisas afirmativas em sua essência, isto é, definições claras, certezas.
O filme é, possivelmente, até o momento, a forma mais aperfeiçoada de máquina do tempo. E sob três ângulos. Primeiro: a câmara registra, "documenta" os acontecimentos. Segundo: ficcão - uma produção cinematográfica, com o apoio de outras modalidades de documentos (relatos, discos, pinturas, fotografias, livros, revistas antigas, etc.), é capaz de recriar ambiência e espírito do passado. Terceiro: conseqüência - esses mesmos filmes de ficção, de recriação por artifício, com o decorrer do tempo, também se transformam em documento, perdendo ou não a sua estesia, a sua capacidade catártica. Exemplo disso são as constantes reprises de fitas de Greta Garbo, operetas com Nelson Eddy, Jeanette MacDonald, Allan Jones, Maurice Chevalier, etc., ciclo de gangsters, musical, etc. Ao mesmo tempo, reexibe-se Eisenstein ou o expressionismo alemão e avant-garde francesa, não como nostalgia, de imediato, mas a fim de se verificar e reverificar como ficaram documentados determinados processos estéticos.
Alguns dos melhores filmes desses dois ou três últimos anos estão inscritos na faixa nostálgica. Este é sempre tema, enquanto o complexo de situações, inclusive o arremate dramático, traduzem apenas pretextos para tanto. Em Summer of 42, de Robert Mulligan, por exemplo, a questão central não reside na súbita iniciação sexual de um adolescente com uma bela viúva de guerra, durante as férias, mas no saudosismo daqueles tempos em que a vida da juventude era mais simples, descompromissada, até por possuir um norteamento ético definido, em contraposição aos dias de hoje, onde, nos centros urbanos, os veículos de envolvimento, aliados à crise dos valores, levam ao desajuste, à participação violenta ou à marginalização intencional (hippies & etc).
No extraordinário O Jardim dos Finzi-Contini, de Vittorio De Sica, apesar do alerta velado contra a ressurreição da extrema-direita, o que mais interessa não é, dentro da fita, a perseguição racial movida pelas fascistas e, sim, a restauração do clima estético e espiritual de uma época, onde os vagares de determinadas sensações, os pequenos paraisos perdidos começaram a ser fulminados pelo embalo da materialização e massificação.
Enfim, em idêntica toada, o não menos admirável (ainda em exibição) Carnal Knowledge (Ansia de Amar) não configura um mero repositório, com diálogos e situações cruas, de experiências eróticas no terreno heterossexual, do término da década de 1940 até hoje. A escala do aprendizado e do refinamento evidencia o condicionamento burguês, mas remete sentimentalmente ao outrora inicial (fase Candice Bergen), onde os sonhos eram muito mais baratos e acessíveis, sem drogas e acessórios, com maior dificuldade de ir ao cerne do que se entende como real. Aliás, seriam desnecessárias outras explicações: os hiatos de passagem de uma época para outra são preenchidos com o ritmo da valsa, colorindo a patinação em fundo branco.
O fenômeno está aí. A permanência, para muitos, constitui moda. Para outros, está condicionada pela resposta do tempo.
Correio da Manhã
09/09/1972