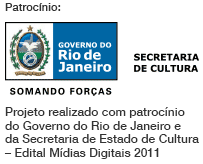Talvez, no momento, o cinema brasileiro seja o mais experimental de todos, excluída a faixa do underground, que, aliás, aqui não existe - ou melhor, o underground nosso é moda, promoção e motivo de investimentos oficiais. Esse experimentalismo incessante é sempre saudável e fecundo; embora, no caso especial do cinema nôvo ou novíssimo, os resultados, em sua maioria, sejam poucos instigantes - quem sabe? - as facilidades para fazer e divulgar vanguarda condicionam uma desagradável auréola de gratuidade, que, espera-se, o tempo venha a se encarregar de apagar.
Pecado Mortal, segundo filme do diretor Miguel Faria Jr. (o primeiro foi Pedro Diabo), oscila como uma gangorra entre as luzes da instigação do nôvo, do arrojado, e as trevas de uma metalinguagem do lugar comum. Em primeiro lugar, serve, a fim de reiterar a constatação de como foi arrasadora a influência de Godard sôbre as nossas últimas gerações de cineastas. Aí estão os seus famosos tableaux em sintaxe telegráfica, com o fito de expôr a modernização de um misto de tragédia grega e derrocada do humanismo. Em Pecado Mortal, a intenção do cineasta se consiste em abstrair o elo narrativo, a continuidade lógica e anedótica, com vistas a uma montagem de climaxes dramáticos traduzidos em planos-seqüência. Com isso, elimina coisas como pathos ou catárse, rompe com o ritmo clássico do crescendo e transforma o ator num dois de paus decorativo - apenas a necessidade do físico próprio ao papel, pois, quanto à comunicabilidade, tanto fará um Orson Welles ou um Zé Trindade. Mas o susto que a vontade do diretor em chocar nos reserva é aquêle de, em dado momento, assistirmos a tudo como se fosse chanchada grega ou tragédia cinematográfica. Mas, felizmente, os altos e baixos são tão mutuamente fulminantes, que, o espectador e, principalmente, o crítico, à bout de souffle, sequer tem tempo para elaborar um veredicto. Aliás, também a metragem é algo fulminente, em se tratando de tanta tragédia e tantos personagens: pouco mais de uma hora de projeção, embora uma realização desta natureza possa durar cinco horas ou cinco minutos.
Se inexiste influência, há, no mínimo, violentas afinidades com o método de Glauber Rocha e de Júlio Bressane: quanto ao primeiro, no tocante à empostação operística dos atôres; quanto ao segundo, com relação à temática e à fúria de reduzir tôda uma ética, uma estética e uma cultura à estaca zero, através, em especial, do morticínio em ritmo sincopado. No vale-tudo, sobram lugares comuns de hoje em dia, como incesto, lesbianismo, homossexualismo, impotência, suicídio etc. Para tanto, lá está, simbolicamente instalado, o matadouro de Cascatinha, onde também os bois e operários desfilando em paralelismo correspondem a uma citação de Modern Times.
O acompanhamento musical, em boa parte com discos de nossa saudável Velha Guarda, torna-se gratuito, tal qual em Matou a Famflia e Foi ao Cinema, de Julinho Bressane, pois o prazer em se escutar Mário Reis, Carmen Miranda e outros, não propicia, na justaposição com os tableaux, nenhum relacionamento dinâmico ou significação cultural. Por exemplo: José Lewgoy contorce-se à beira dos calos de Marina Montini durante exatamente o tempo inteiro da segunda gravação de Mário Reis do clássico de Sinhô, Deus nos Livre do Castigo das Mulheres. Lewgoy, inclusive, deve ter emagrecido um pouquinho de tanto se torcer no solo, seja nesta cena ou em outras, principalmente aquela do ataque epilético sob o transe de apatia de Fernanda Montenegro.
As melhores passagens talvez sejam àquelas que, quase inteiramente na toada de cinema mudo, acompanham a ânsia de Susana de Moraes, a paralítica que acaba se atirando na piscina com cadeira de rodas e acessórios. Quanto à seqüência mais insólita, é, sem dúvida, aquela em que Rejane Medeiros salta e agoniza, nua e banhada em sangue com os tiros que recebeu de Anecy Rocha, a amante em desespêro.
O radicalismo de Miguel Faria Jr., apesar dos lances positivos, não impressiona ninguém, em têrmos estruturais, desde que se viu e se aceitou o Godard de a partir de Viver a Vida, quando, então, as coisas são construídas e colocadas com muito maior conhecimento de causa: crise de linguagem e o próprio cinema. Se a estrutura aberta, desfechada pelo criador de Pierrot Le Fou, permite as aparências do valetudo probabilístico, cabe notar que a abertura tem limites (que não estão no céu), mesmo porque a falta dêles leva ao infinito, isto é, o zero.
Correio da Manhã
26/11/1970