
cinema  |
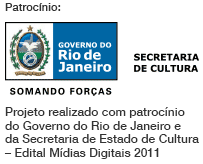 |
||||||||
|
Veredas novas na história do cinema
Crônica do cinema paulistano, Maria Rita Eliezes Galvão, Ática, S. Paulo, 1975, 333 páginas. Essa carência de elementos necessários ao palmear da história avoluma-se intensamente quando se trata de focalizar retrospectivamente o cinema feito no Brasil. Filmes perdidos, negativos destruídos, muitas obras atiradas no lodo do esquecimento. E, para recuperar alguma coisa disso, resta a saudade ou o fragmento da memória de alguns veteranos no métier, entre velhos recortes ou depoimentos imprecisos. Por isso mesmo, um livro, como Crônica de Cinema Paulistano, de Maria Rita Eliezer Galvão, já deve ser preliminarmente saudado quando vem a público. O que traz de informação e farto, ás vezes, surpreendente. São três décadas de cinema em São Paulo: do princípio do século, até a fase inicial dos anos 30. Em sua nota de esclarecimento, a Autora já previne: “O cinema que se tem é de uma mediocridade atroz – medíocre nos meios, na forma, no conteúdo, na repercussão (ou na ausência dela). No entanto, o que é extraordinário, este cinema existiu. Importa pouco o mérito da questão, e entrar em considerações estéticas não teria o menor sentido”. De fato, importa, em primeira instância, saber-se, mais detalhadamente, aquilo que foi feito. E um condicionamento de tecnologia: não somente profissional, mas social e econômico. O livro oferece as seguintes etapas: Nota de Esclarecimento – Fontes de Informação – Introdução (subdividida em cinco partes: Antecedentes, Primeira Fase, Desenvolvimento do Mercado Cinematográfico, Segunda fase e A Aventura do Cinema Paulista) – Depoimento e Filmografia. A Nota de Esclarecimento se constitui numa justificativa do trabalho e o no aceno de uma metodologia estribada na visão impessoal da Autora, no máximo possível. As Fontes de Informação, além dos agradecimentos de praxe, incluem referencia bibliográficas e o nome de personalidade que cooperaram com dados e depoimentos. A Introdução corresponde a um breve apanhado da situação sociocultural de São Paulo, no momento em que começava a tatear no campo cinematográfico. Os Antecedentes já denotam a concretização de um reconstruir histórico: os pioneiros, os primeiros instrumentos de fazer cinema, de projetar filme, de atrair o público, enfim, as primeiras salas de espetáculo. Os Depoimentos incluem a participação de vários nomes, alguns mais, outros menos conhecidos ou registrados, porém a constante de uma imigração e, conseqüentemente, a influência de um cultura italiana, readaptada à realidade do Braz, da Avenida Paulista, etc. São narrados pela Autora, não são transcritos. São os depoimentos de: Achille Tartari, Olga Navarro, Antonio Campos, Francisco Madrigano, Georgina Marchiani, Nicola Tartaglione, Joaquim Garnier, Adalberto Kemeny, Américo Metrangola, Vitória Lambertini, João Cypriano, Gilberto Rossi, José Medina, José Carrari e Menotti Del Picchia. Em suma, a Filmografia, sinteticamente, retrata o núcleo ainda mais positivo, isto é, a História compilada em detalhes objetivos, embora sua organização tenha sido baseada no critério de ordem alfabética, em lugar da cronológica – o que pode ser discutível. Registre-se também que essa filmografia não se limita ao método convencional da “ficha técnica”; em muitos casos, os filmes catalogados vêm acompanhados, seja de críticas, comentários ou anúncios surgidos na imprensa, bem como de sinopses do argumento. Crônica do Cinema Paulistano é um livro de inobjetável interesse para os que tem as lunetas da curiosidade, ou da própria especialização, navegando nas águas do filme – principalmente cinema nacional, ainda hoje, em grande parte, bolando na mediocridade dos mares da pronochanchada, sob os auspícios (e, até mesmo, estímulo) de uma censura deletéria, que premia a ignorância ou falta de talento. São os “salesianos” tecnocratas, de agora. No mais, apresentar dúvidas? Registrar prováveis erros de informação? Como por exemplo, quando, na página 23, diz-se que Candido das Neves, o índio, era cantos e palhaço do Circo Spinelli: só pode ter sido seu pai, Eduardo das Neves, naquele ano do 1909. Em contraposição, um seqüência de informações, tal qual o destaque da chegada ao Brasil de Francisco Serrado, os primeiros cinemas (salas de espetáculo), o Eldorado e o Bijou. E o relato sobre O Crime da Mala. A edição de um livro como essa deverias gerar conseqüências. Ou seja, programas a pesquisa menos amadorística e mais sistematizada de nossas formas de conhecimento, através do filme. Nesta era de reprodutibilidade em massa, como já, há decênios, constatava um escritor e ensaísta do porte de Walter Benjamin, o filme se apresenta como instrumento por excelência. Vele procurar o meio de como melhor conhecer sua história, sua cronologia de aplicações práticas ou especulativas, a fim de melhor utilizar, na atualidade, as suas implicações. Porque o filme não é só estética (senão, como já se explica, esse livro não teria sua razão de ser), ou cinema (a tal “arte do século”), é fotografia, documentação, arquivo dinâmico, ensejo para reconstruir o passado. Jornal do Brasil |
Uma Odisséia de Kubrick Revista Leitura 30/11/-1 As férias de M. Hulot Jornal do Brasil 17/02/1957 Irgmar Bergman II Jornal do Brasil 24/02/1957 Ingmar Bergman Jornal do Brasil 03/03/1957 O tempo e o espaço do cinema Jornal do Brasil 03/03/1957 Ingmar Bergman - IV Jornal do Brasil 17/03/1957 Robson-Hitchcock Jornal do Brasil 24/03/1957 Ingmar Bergman - V Jornal do Brasil 24/03/1957 Ingmar Bergman - VI (conclusão) Jornal do Brasil 31/03/1957 Cinema japonês - Os sete samurais Jornal do Brasil 07/04/1957 Julien Duvivier Jornal do Brasil 21/04/1957 Rua da esperança Jornal do Brasil 05/05/1957 A trajetória de Aldrich Jornal do Brasil 12/05/1957 Um ianque na Escócia / Rasputin / Trapézio / Alessandro Blasetti Jornal do Brasil 16/06/1957 Ingmar Berman na comédia Jornal do Brasil 30/06/1957
|