
cinema  |
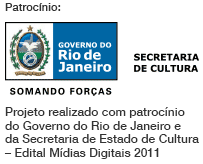 |
||||||||
|
Cine "A época atual caracteriza..."
A época atual caracteriza o processo do cinema dentro de uma etapa peculiar. O experimentalismo, em lugar de haver permanecido dentro de uma cronologia sistemática, eclode aqui e ali, guerrilha de surpresa, sem maiores preâmbulos. Não é preciso remeter aos países sem grande indústria, sem grandes centros de produção; dos próprios estúdios hollywoodianos, jorram os nomes de diretores desconhecidos, comandando produções A (ainda não as superproduções, mas parece, pelo visto, que se chegará lá). Antes, eram obrigados a ensaiar nas produções B – há pouco mais de dez anos, Godard, no começo de sua carreira esfuziante, dedicava À Boute de Souffle à Monogram Pictures, especialistas em filmezinhos baratos, mas, muitas vezes, com fumaças pretensiosas. Cineastas – hoje consagrados – como Kubrick, Losey, Nicholas Ray – iniciaram-se assim, modestamente, quase incógnitos, apenas reconhecidos por alguns críticos. Correio da Manhã |
Uma Odisséia de Kubrick Revista Leitura 30/11/-1 As férias de M. Hulot Jornal do Brasil 17/02/1957 Irgmar Bergman II Jornal do Brasil 24/02/1957 Ingmar Bergman Jornal do Brasil 03/03/1957 O tempo e o espaço do cinema Jornal do Brasil 03/03/1957 Ingmar Bergman - IV Jornal do Brasil 17/03/1957 Robson-Hitchcock Jornal do Brasil 24/03/1957 Ingmar Bergman - V Jornal do Brasil 24/03/1957 Ingmar Bergman - VI (conclusão) Jornal do Brasil 31/03/1957 Cinema japonês - Os sete samurais Jornal do Brasil 07/04/1957 Julien Duvivier Jornal do Brasil 21/04/1957 Rua da esperança Jornal do Brasil 05/05/1957 A trajetória de Aldrich Jornal do Brasil 12/05/1957 Um ianque na Escócia / Rasputin / Trapézio / Alessandro Blasetti Jornal do Brasil 16/06/1957 Ingmar Berman na comédia Jornal do Brasil 30/06/1957
|