
cinema  |
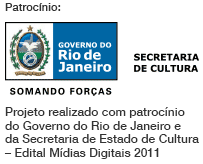 |
||||||||
|
O fim é a mensagem
Woodstock: impacto e experiência O diretor Michael Wadleigh e seus supervisores de montagem, talvez como até então não fôra consumado, resolveram levar a consequências de recriação o sistema de subdivisão, dupla ou tripla, da tela panorâmica, a fim de apresentar a justaposição de imagens e ações. E também operar com variações da dimensão do écran, do cinemascópico, ao retangular, ao quadrado, conforme o ponto de vista para o relacionamento câmara-imagem. É a velha abertura de Max Ophüls, no antológico Lola Montez, restaurada como matriz estrutural de ritmo e relato. Com tudo isso, são múltiplas as possibilidades de combinação, algumas delas exploradas neste filme com bastante efeito: imagem estática com imagem em movimento, ou uma das duas hipóteses com a outra cena em travelling; movimentos paralelos ou movimentos internos ou externos em sentidos diversos; choque ou rima cromática; closeups com medium ou long-shots etc. Ao lado disso, o arrôjo das tomadas (muitas delas com belas bolações de grua), principalmente nas cenas de interpretação musical. Nas sequências noturnas, note-se, há o delírio do claro-escuro e da distorção expressionista. O som de Woodstock não é apenas o som-fúria moderno, despido da contrafação internacionalizante. É som-cinema, no entremear do canto, dos acordes e arrancos dos instrumentos e do rumor da multidão, aquela multidão pacífica que foi viver três dias em comunhão frugal. Essa superposição de elementos só se torna exatamente possível com os atuais recursos de transmissão sonora das salas de espetáculos, quando a pluridirecionalidade permite o impacto. Como documentário, o filme atinge nível excepcional, retratando, como poucos, o comportamento coletivo. Será o comportamento daqueles que, conscientes ou não, propõem uma. nova civilização - à margem de tudo o que as grandes potências, à direita, ao centro ou à esquerda, representam: industrialização galopante, tráfego, poluição, competição, autoritarismo, moralismo, bombas. Uma revolução cultural que não é feita de cima para baixo, como a de Mao, mas sim em sentido contrário, talvez a flor que tenta nascer no asfalto, como a do velho e antológiço poema de CDA. Uma revolução pelo comportamento, onde se expressa uma sociedade (utópica?) do fim do dinheiro (enquanto houver rublos, jamais haverá comunismo), pois o fim da cultura que a moeda representa não implica obrigatoriamente no retôrno ao lôbo do homem, ao primitivismo imaturo, porque a consciência da tradição do velho humanismo permanece. Num país democrático, os Estados Unidos, aceita-se a manifestação em prol da virada neopagã encarnada em Woodstock e tantos outros fenômenos que ameaçam valôres do establishment. Numa cena de entrevista, um rapaz, que, aliás, não se alimentava de drogas, disse com extrema naturalidade que considerava Nixon e o general Westmoreland como dois psicopatas; não precisou exprimir o mêdo da repressão ou a ênfase de quem se rejubila em enfrentar a fôrça. Noutra cena, o chefe de polícia local, elogiou abertamente a conduta das centenas de milhares de jovens de Woodstock - achou-os maravilhosos. É um filme que se recomenda também aos observadores dos problemas sociais da época atual. Correio da Manhã |
Uma Odisséia de Kubrick Revista Leitura 30/11/-1 As férias de M. Hulot Jornal do Brasil 17/02/1957 Irgmar Bergman II Jornal do Brasil 24/02/1957 Ingmar Bergman Jornal do Brasil 03/03/1957 O tempo e o espaço do cinema Jornal do Brasil 03/03/1957 Ingmar Bergman - IV Jornal do Brasil 17/03/1957 Robson-Hitchcock Jornal do Brasil 24/03/1957 Ingmar Bergman - V Jornal do Brasil 24/03/1957 Ingmar Bergman - VI (conclusão) Jornal do Brasil 31/03/1957 Cinema japonês - Os sete samurais Jornal do Brasil 07/04/1957 Julien Duvivier Jornal do Brasil 21/04/1957 Rua da esperança Jornal do Brasil 05/05/1957 A trajetória de Aldrich Jornal do Brasil 12/05/1957 Um ianque na Escócia / Rasputin / Trapézio / Alessandro Blasetti Jornal do Brasil 16/06/1957 Ingmar Berman na comédia Jornal do Brasil 30/06/1957
|