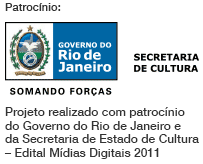Parece que o primeiro a expor a grande chave no processo do cinema moderno - a dialética entre documentário e ficcão - foi o crítico André St. Labarthe. Até então, podia-se falar em estilo semidocumentário no tratamento dado por alguns cineastas de Hollywood (exemplo: o Hathaway, de A Casa da Rua 92), ou, no tocante ao neorealismo, em técnica de documentário, no sentido de que, em contraposição à pesquisa de vanguarda dos cineastas soviéticos do início da revolução (Eisenstein, Pudovkin, Vertov e outros), os italianos, ao abordarem questões sociais ou a fazerem as fitas de guerra, iam, sem rebuscamentos de pesquisas estilísticas, direto ao assunto com as filmagens in loco e o lançamento do ator não-profissional.
O que fizeram os modernos cineastas franceses (não apenas aquêles que se intitularam da nouvelle vague) foi, no entanto, algo de mais profundo, que não era, em si, apenas estilo ou técnica, mas, sim, estrutura. Documentário puro ou ficção pura deixaria, nas fitas mais importantes, de ser categolia isolada, para entrar em fusão, com respeito ao método de conceber e executar um roteiro cinematográfico. O texto, por exemplo, podia ser documento, e as imagens serem fruto da imaginação, ou vice-versa. A própria literatura podia ser documento em função do filme (por exemplo, O Retrato Oval, de Poe, lido por Godard em voix-off, para hommage à mulher-atriz personagem Ana Karina, na cena do bordel em Vivre Sa Vie - talvez, até hoje, a fita mais importante de JLG, onde também, inclusive, a "citação" visual de uma cena da Falconetti, em La Passion de Jeanne D'Arc, de Dreyer, se torna documento). O próprio texto, superficialmente ultraliterário, de Robbe-Grillet, para L'Année Dernière à Marienbad, perde tôda esta característica no momento em que reitera e "descreve" as imagens e movimentos de câmara.
Resnais, com os seus problemas de tempo e memória, já possuía grande e antológica experiência no documentário de curta-metragem e os últimos dêles já refletiam também a introdução de elementos literários em sua estrutura: Toute La Memoire du Monde, Nuit et Brouillard ou Le Chant d'une Styrène. A esta formação documental e de pleno domínio técnico (aluno do IDHEC), ligou o impulso da linguagem do surrealismo; vinculando até a própria escrita automática à écriture cinematográfica. Uniu dois opostos: a total objetividade e realismo da técnica do documentário à ficção libertária e anti-racional do surrealismo. Com isto, também foi o primeiro a perceber, em têrmos de organização, e a aplicar sistematicamente uma visualização da memória como modo de conhecimento do próprio cinema e de levar a ficção a terrenos inaproveitados. Em decorrência, a lei do aleatório, com o contrôle racional da "boa forma", esta, ao nível estrutural, indo beber na fonte do maior montador, Einsenstein, ou do maior movimentador, Ophüls.
Je T'Aime Je T'Aime (tão importante como Hiroxima ou Marienbad) é extremamente radical no sentido de levar a técnica do aleatório ao ponto de fechar tôda a angulação de pesquisas. Veja-se: de um lado, o máximo do racionalismo criativo seria conseguir controlar o acaso (tema e método dominante, de Mallariné ou João Cabral e chegando ao concretismo em determinada fase): de outro, (alea) chegar a isso (ou perto) pela atitude contrária: livrar o acaso ("cavalo sôlto que é louco" - João Cabral) in totum e atingir à objetividade crua e pura através da degenerescência da lógica racional ou da lineridade cronológica em qualquer estágio (do tempo de memória, do tempo de ficção, do tempo de projeção). O embaralhamento intencional de cenas ou sequências e semi-sequências, fazendo - e aí é importante - que a unidade da montagem não seja o shot (como prefigurou Einsenstein), e, sim, êsses fragmentos mais complexos. A história, em bloco, pode ser reconstruída pela inteligência, mas isto não é necessário. E a anedota (a história que leva Ridder a se submeter à experiência com o tempo) transforma-se em suporte ou moldura do quadro aleatório (a viagem do protagonista pela máquina de voltar ao passado). Mas como demonstram as técnicas de reprodução em evolução galopante (e o cinema é uma delas), por paradoxo, o passado, dia a dia, vai ficando mais contingente no nosso presente. Aí está uma lição de cinema - o jôgo está feito - homo ludens – o futuro no espaço (viagens astronáuticas) é ganhar tempo, e no tempo, é ganhar espaço to ontem da humanidade).
Correio da Manhã
24/09/1969