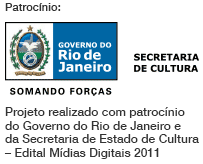Em breve, estreará no Rio de Janeiro a melhor fita já realizada por Walter Hugo Khouri, As Amorosas, com Paulo José, Jacqueline Myrna, Anecy Rocha e Lilian Lemmertz. Khouri, que na época do chanchadismo deu uma nota séria e sueca com Estranho Encontro, vem com uma carreira de altos (Na Garganta do Diabo) e baixos (A Ilha), até chegar a êsse ponto de maior maturidade, com um filme que deverá ser o melhor nacional do ano, se Zé do Caixão e a censura deixarem.
UMA ESTÉTICA DA VIOLÊNCIA
A violência é uma das facêtas da própria ontologia cinematográfica, ao contrário do estipulado por uma visão moralista do filme, que impele movimentos e cruzadas contra ela. Isso foi há pouco reiterado por um diretor do porte de Ingmar Bergman em entrevista traduzida pelo Cahiers du Cinéma. Bergman, aliás, aprecia muito um dos especialistas da expressão pela violência, o cineasta Arthur Penn (com o vigor de realizações, como The Miracle Worker e The Chase), autor do notável Bonnie and Clyde. Nada melhor do que um filme como êste último para evidenciar que os americanos têm o cinema no sexo, assim como os inglêses tiveram a poesia na época elizabethana, ou os italianos, as artes visuais e plásticas, na Renascença. Entre outras coisas, a violência é uma das componentes da tendência natural para o espetáculo, numa criação industrial, como o filme. Mesmo porque a violência é sinônimo de dinamismo e a chamada sétima-arte é aquela materialmente mais poderosa, a partir da capacidade de externar, como nenhuma outra, o movimento físico de sêres e objetos. Por outro lado, o cinema talvez seja americano por excelência, devido ao estado latente de violência de sua civilização. A violência em si, como espetáculo ou elemento de catárse, começou a marcar decisivamente uma linguagem do decênio de 1950: o thriller, o western, o filme de guerra ou de espionagem. Em Arthur Penn, por exemplo, a violência: é motor de denúncia, como também de revolta necessária contra a violência de direita. No caso de James Bond, ela é espetáculo, é show, é a virtualidade alegórica do cinema. Aliás, não precisamos repousar no embalo da ficção, do faz-de-conta: estão aí os documentários da guerra no Vietnam ou outras promoções, pouco amenas, que entram em casa, via TV. E não se pode impedir nada disso, como não se pode evitar que as crianças brinquem de mocinho com armas de mentira, enquanto a própria natureza humana, biológica ou socialmente competitiva, não sofra uma modificação básica.
A violência não constitui elemento obrigatório da estética do filme ou em seus roteiros, mas é, inelutavelmente, um dos seus estímulos primordiais. Violência descabida, sim, são quaisquer tentativas dos censores de proibir as cenas de violência no cinema (a não ser aquela coibição, natural, para menores): seria distorcer a natureza de uma dada coisa. Todos os sintomas denotam uma estrutura - e a estrutura do filme possui êsse vigor, tanto externo, como interno, no drama e, mesmo, na comédia (vide Chaplin, Griffith, Eisenstein).
Correio da Manhã
16/11/1968