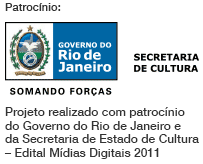A expressão "cinema nôvo", nas circunstâncias em que nasceu, é mais simplesmente um slogan, o sinal de uma euforia. Não encorpa um determinado movimento estético, não obedece a um programa formativo, no sentido de encarar o problema da linguagem moto/sonora/visual. Os diversos diretores que se apresentam sob a sua égide seguem também várias tendências, heterogêneas entre si - sejam filosóficas, sejam políticas, sejam estilisticas, e múltiplas são as correntes de influência a se denotar. Tiros para todos os lados: na môsca ou fora do alvo. E seria rebarbativo dizer que o cinema nôvo representa o florescer de um contato integral do cineasta com a assim chamada realidade brasileira. Isso porque não há fundamentação rigorosamente filosófica que propicie função pertinente aos nacionalismos· em arte; os ismos somente são válidos quando se atêm à Forma. Por menos consciente que o artista esteja, o produto criado por êle reflete a atitude de um humanista, embora, evidentemente, seja instigado, movido, formado pelo seu campo do comportamento, pelos estímulos que extrai de sua experiência. Assim o foram, humanistas, Maiakovski e Eisenstein, vivendo uma revolução, ou Emily Pickinson que nunca viu o mar.
Nesse ponto, não detendo o cinema nôvo uma característica peculiar que explique o rótulo, seria até permissível dizer que já existia, desde o Mário Peixoto, de Limite, ou o Humberto Mauro, de Ganga Bruta. Estarse-ia divagando sôbre o óbvio, pois novos também seriam, antes do advento do slogan, filmes como Rio Quarenta Graus, Rio Zona Norte, Ravina, Estranho Encontro, Na Garganta do Diabo, O Cangaceiro, Sinhá Môça, Caiçara, Cidade Ameaçada, Na Senda do Crime, Amei um Bicheiro, Absolutamente Certo!, Rua sem Sol, Presença de Anita, Tico-Tico no Fubá etc.
O cinemanovismo traduz, assim, mais um mero estado de espírito, um transe de euforia, criado por um fator básico: a maior disponibilidade financeira - o maior número de produtores dispostos a prestigiar o chamado cinema sério, o cinema a ser feito por quem entende do riscado, por jovens que se iniciam cheios de entusiasmo. A maioria dos nossos novos cineastas vem diretamente das salas das cinematecas, leram vários volumes teóricos e discutem cinema diariamente. E, há cêrca de cinco anos atrás, seria raríssimo que um dêles conseguisse câmaras e capital para criar – aumentariam simplesmente a fileira dos críticos. Mas o baixo comercialismo, dominante, há pouco, em mais ou menos 90% das produções brasileiras sofreu uma queda brusca e brutal em seu índice. E tudo isso quer dizer que o cinema nacional, graças à injeção financeira e estética, vai-se tornando uma realidade. Já enviamos às mostras internacionais, anualmente, pontualmente, filmes que não nos envergonham. Já ganhamos, inclusive, o grande prêmio do festival de Cannes, com O Pagador de Promessas.
À par da realidade financeira, vai, em saltos mais lêntos, desenvolvendo-se a realidade econômica, isto é, a indústria. E quanto maior fôr a industrialização, maior será o cinema. Nesse estágio ainda incipiente, embora em crescimento; ela exige ainda uma forte solicitação ao mercado, ela forja produtos de consumo. É verdade que êsses produtos evoluíram de matriz: do carnaval, passamos para o cangaço (uma espécie de western nacional, nacionalista), os rádio-atôres e cômicos da Praça Tiradentes cedem o lugar para os intérpretes com sotaque nordestino. Saímos das produções Atlântida, da pornografia, ou da eterna história de um rapaz pobre que quer montar um show, para o exótico, para um regionalismo, na maioria das vêzes, estereotipado - mas já é um passo avante. Ao mesmo tempo, começa a emergir um cinema tipicamente carioca, isto é, futebol, favela e crime. E boas coisas já saíram dai: o desigual Garrincha, Alegria do Povo, O Assalto ao Trem Pagador, Couro de Gato, O Menino de Calças Brancas etc
Tratando-se de cinema, é possível asseverar: sem um mínimo de suporte econômico não existem os chamados gênios - qualitativo infeliz que nada tem a ver com a medida quantitativa da eficácia. E o filme eficaz necessita da máquina e todos os fatôres por ela acarretádos. Constitui um trabalho de equipe, a exigir uma tarefa administrativa – uma tarefa de infraestrutura, para a consecução de uma obra cinematográfica. Sumiu o antigo corpo-a-corpo com a obra e a sétima-arte é a única (a não ser a fotografia, já nela contida) que foge ao âmbito do artesanal. Merleau-Ponty afirmou, com grande propriedade, que o cinema era a primeira forma de arte a nos conferir o comportamento do indivíduo - o estar. Lenin viu nela a arte do século, pela capacidade de comover as massas a um só tempo e lugar. O cinema traz uma revitalização pujante do impacto emocional, daquilo que se denomina catarse. Germinando no complexo cibernético da 2a. revolução industrial (era da automação) consumou a humanização via máquina. E, por isso, todos os nossos passiveis gênios estariam relegados a uma discreta latência, se não houvesse aquilo que se chama desenvolvimento econômico.
E êsse mesmo desenvolvimento afetou e melhorou outros aspectos laterais da indústria cinematográfica. Hoje, a participação nas questões estéticas do cine é bem maior do que a de um decênio atrás. Publicações, debates, festivais - todos êstes elementos ajudaram na formação do estado de espírito “cinema nôvo". A própria censura desprovincianizou-se e apresenta-se quase civilizada - impossível dizer que uma censura é totalmente civilizada, pois uma civilização ideal dispensaria as censuras. É verdade que duas ou três fitas do cinema nôvo ainda sofreram o seu golpe. É lembrar o caso Cafajestes (aliás, o maior filme brasileiro; com a possível ressalva de Limite), obrigado a enfrentar uma batalha judiciária por causa de uma cena de nudez (uma sequência antológica) e duas ou três palavras que são· pronunciadas diariamente, mas que alguns acharam que os ouvidos do público espectador ainda não se encontravam amadurecidos para escutá-las na tela. Ou o recente tumulto, provocado por um ex-crack do futebol, ao jogar para a lateral o inédito Canalha em Crise, porque julgou que, nessa fita, o crime estaria compensado. Mas, apesar de uma ou outra estocada do moralismo alienante e alienado, a censura tornou-se mais adulta. Já, hoje, acreditamos bem difícil ocorrer aquilo que Salvyano Cavalcanti de Paiva, em seu artigo A Arte de Cortar, publicado na revista Filme (2º, e último número, publicado em 1949), relatava a propósito dos motivos que, em 1941, determinaram a interdição do filme A Mulher do Padeiro, a espôsa de um ministro de Estado, influenciada por seu confessor, conseguiu que o marido proibisse a sua exibição, sob o argumento de que era um "imoral celulóide". Mesmo porque, atualmente, com a industrialização crescente, as mulheres vão tendo mais o que fazer e os cenfessores, em decorrência, muito menos.
Correio da Manhã
06/09/1963