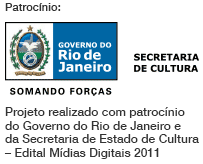A primeira coisa a se ressaltar na História da Literatura Ocidental é que, embora reflita a invejável formação, o conhecimento profundo do autor a respeito do vasto assunto abordado, não constitui estilísticamente obra de um erudito. Nada dos tanques pecados de uma terminologia que, em muitos outros escritores, obriga à consulta de dicionários altamente especializados. Nem o maciço descarregar de citações que, amiúde, se transforma numa sobrecarga antifuncional para quem lê. Na simplicidade do saber e no saber dissertar sintetizando, Carpeaux consuma um admirável trabalho de prosador, expondo escorreitamente, conseguindo explicar numa linguagem leve e precisa aquilo que muitos só conseguiram recorrendo a complexas parafernálias terminológicas. E – por isso mesmo – na conjugação entre o estilo e o tema, a História da Literatura Ocidental pode ser considerada um dos momentos mais luminosos da prosa em língua portuguêsa. No ritmo, na clarté, na economia de meios. Last but not least: nos seus ensinamentos.
Como o autor desde o intróito, fêz questão de anunciar, o desdobramento do exame da literatura no mundo ocidental obedece à correlação de critérios estilísticos e sociológicos. Na análise de determinados livros, de determinados movimentos, um critério explica e completa o outro. E, a fim de secionar momentos mais decisivos nas transformações do comportamento e visão do escritor – em decorrência, das próprias civilizações – a obra vem dividida em dez partes básicas 1) a Herança; 2) o Mundo cristão; 3) a Transição; 4) Renascença e Reforma; 5) Barroco e Classicismo; 6) Ilustração e Revolução; 7) O Romantismo; 8) A Época da Classe Média; 9) Fin de siècle e depois; 10) Literatura e realidade.
Seria difícil destacar uma parte ou mesmo trechos delas superpostos meritòriamente aos demais. Aquilo que Ezra Pound denominou os punti luminosi escorre pelos milhares de páginas. Vale, no entanto, a título de exemplo, citar passagens e procurar demonstrar como Carpeaux soube situar e focalizar determinadas questões. Na primeira parte, onde enfoca o mundo grego e romano, a sua contribuição é importante, não tanto na análise individual e isolada que realiza da obra dos escritores, mas na explicação de que constituia aquêle mundo para que melhor se possa compreender e situar a obra dos grandes filósofos, poetas e prosadores.
Ao abordar, por exemplo, o que significa o conceito de mimesis (imitação) no mundo grego, a partir da demonstração, não só de que as religiões da Antigüidade não conheciam dogmas, mas de que a própria idéia de tradição não era idêntica à nossa acepção atual, Carpeaux a define, elucidando um processo: repetição, mas com liberdade de criação dentro dêsse processo. E melhor discorre, em seguida: “Desde os começos da civilização grega, os antigos consideravam a mimesis, não como imitação servil, mas como processo criador. “O nosso mundo ideal”- arte, literatura, filosofia, ciência pura – é uma criação do espírito grego. Apenas com uma diferença: para nós é um “mundo ideal”, sempre diferente da realidade das coisas, para os gregos, a idealidade do pensamento filosófico e das obras de arte coincidia com a realidade das coisas. Neste sentido, o mundo grego continua como ideal eterno”.
Ao enfocar o universo da Idade Média, faz questão também de evidenciar a necessidade de rever o convencionalismo do conceito “Idade Média”. E parte para isto, apontando a descoberta moderna da existência – não de uma – porém de várias renascenças; a começar pela carolígena. E o fim da Idade Média? Carpeaux identifica-o com a morte de dois grandes poetas, Manrique e Villon: “O gótico flamboyant não teria encontrado melodia digna da morte definitiva da Idade Média, senão na voz de representantes das duas classes que morreram com ela: os cavaleiros e os clérigos. O cavaleiro: Jorge Manrique. O clérigo: François Villon.”
A evolução do conceito de tradução é outro ponto luminoso da história: “O próprio conceito de tradução é obra do humanismo. Nem a Antigüidade bem a Idade Média conheceram traduções: aquilo a que damos êsse nome entre as obras medievais são versões livres, libérrimas mesmo, adaptações mais inescrupulosas e plágios. De nada importava ao leitor medieval a origem e a estrutura formal de uma obra alheia; apenas desejava conhecer o conteúdo. Só o humanismo criou a consciência da relação entre forma e conteúdo, da importância de verter letra e espírito do original, da necessidade eventual de reconstruir um texto corrompido; e da propriedade literária.”
Desossar a forma fechada dos conceitos, trocando-os em miúdos, consoante as transformações do Universo e das civilizações, fica-nos evidenciado, é uma tarefa de sentido estrutural na missão de narrar uma história da literatura ocidental. Nesse sentido, é que os exemplos acima de como perceber a imitação na antigüidade ou na herança da instigação como analisar outros conceitos, como o classicismo, desvendar as várias origens e recorrências do barroco, explicar (como o autor o faz com acuidade) o romantismo, diferenciar poesia de prosa ou como aproximar a literatura da realidade na época contemporânea, constituem elementos importantes para que um determinado quadro – aqui, o dia da literatura e suas transformações – fique decisivamente delineado.
Não, por outro lado, que a análise de obras e autores, se perca. Pelo contrário; aí mesmo, desvenda-se ainda melhor a capacidade de síntese, o captar suscinto da significação de muitos dêles consumado por Carpeaux. Vamos a alguns trechos: a) Petrarca: “É o primeiro homem que sente a responsabilidade do espírito, do talento, do gênio, chamado a desempenhar grande papel nos acontecimentos dêste mundo. Petrarca é o primeiro intelectual moderno”; b) John Donne: “A poesia erótica de Donne é a mais original do mundo e aí está o papel na história da poesia inglêsa: foi êle quem acabou com o petrarquismo da Renascença. Substituiu-o por uma mistura de neoplatonismo exaltado e naturalismo sexual, representando assim uma nova definição do barroco”; c) Dryden: “É o criador da literatura moderna, não sòmente pela linguagem poética, pelas novas convenções teatrais que estabeleceu, pela prosa, mais ainda pela atitude. É o primeiro inglês que foi conscientemente e profissionalmente “homem de letras”; d) Rousseau: “As Confissões são um livro de importância histórica tão grande como As Confissões, de Sto Agostinho, duas autobiografias que anunciam e terminam a agonia de duas civilizações, pelo desmonoramento total de todos os valôres. Sòmente que Rousseau não foi um santo. Teria sido padre da Igreja da anarquia permanente;” e) Balzac: “A história do romance como gênero literário divide-se em 2 épocas: antes e depois de Balzac. Com êle, até o têrmo mudou de sentido. Antes de Balzac, “romance” fôra a relação de uma história extraordinária, “romanesca” fora do comum. Depois será o espelho do nosso mundo, dos nossos países, das nossas cidades e ruas, das nossas casas, dos dramas que se passam em apartamentos e quarto como de nós outros”; f) Maupassant: É profundo na superficialidade porque reconhece o “sem fundo”da superficialidade, o vazio desta luta corporal, só prazer, sempre o mesmo prazer e, enfim, a destruição fatal. A angústia do desfecho. Maupassant sempre vir ao fantasma do nada atrás da luzes impressionistas”; g) Fernando Pessoa: “Até a sua teoria do “poeta é fingidor” e da poesia como arte de “cantar emoções que se não tem” lembra o músico que parece, ao ouvinte, afogar-se em emoções, enquanto, na verdade, conta exatamente os compassos”.
Secura, lucidez e isenção no sentido de projetar as suas opções pessoais e emocionais. O historiador, aqui, se comporta como tal, como tentativa de ser instrumento de projeção da mesma história. A sua ojeriza por um poeta como Maiacóvski, não o faz omitir a presença e atuação histórica do poeta da revolução soviética; a sua ainda hoje enorme admiração por Keats, não o impede de gastar maior espaço na explicação de um fenômeno importante como essa espécie de satanismo desfechada por Byron (um poeta muito menor – obra versus obra – do que Keats), mas cuja atitude teve tal extensão que levou o própro Carpeaux, bem mais adiante, a ainda definir Baudelaire, “o fundador da posia lírica moderna”, como “o último byroniano”. Nem tampouco o seu pensamento político-filosófico lhe permitiu concessões emocionais e determinados escritores, diante de um critério de análise estética. A gratuidade de certas posturas “participantes”, em relação a uma obra que se esgota no próprio ato (às vêzes hipócrita) de se mostrar “engajado”, já mereceu a sua denúncia formal.
A História da Literatura Ocidental não nasceu à-toa, nem como essas encomendas literárias que se fazem ao sabor, essas encomendas literárias que se fazem ao sabor, tantas vêzes entre nós experimentado, da irresponsabilidade. Pode haver muita coisa a ser sèriamente criticada em seus métodos e análises, mas Otto Maria Carpeaux – aqui, como ninguém – era o escritor talhado para o ofício. Aquêle ofício de que falava o grande Dylan Thomas: “In my craft or sullen art…”
Correio da Manhã
27/08/1966