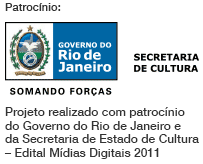Semiótica e Literatura é o terceiro livro de Décio Pignatari publicado na coleção Debates, após Informação, Linguagem e Comunicação (já um best-seller no gênero) e Contracomunicação.
O critério é o do ideograma, da montagem, das laminas do biologista propugnadas por Ezra Pound. O método de Valéry, a semiótica de Peirce, a Revolução Industrial, as decifrações de Edgar Allan Poe, Machado de Assis e de Mallarmé - é nesse entrechoque de dados básicos, aparentemente estranhos e heterogêneos entre si, que se funda o pensamento de Pignatari. Na parte final do livro, alguns apêndices vários ou "outros códigos" complementam a exemplificação das preocupações do autor: o cinema; Volpi; Oswald de Andrade; a leitura dos objetos na era do consumo.
Semiótica e Literatura, já em si, torna-se um livro polêmico - sem precisar de um referencial incessante a quem ocupa as trincheiras adversárias. É polêmico pela estrutura, pela criatividade, por uma espécie de poética do ensaio, desprendida de regras de princípio-meio-fim, de "explicações", "provas", "demonstrações" do óbvio.
Saisir au vol la diversité - um pensar, uma inteligência que percebe relações e, não, o tatibitate enumerativo de qualidades rotuladas a priori. Por isso, na hora de mostrar, o autor, em vez das teorizações apocalípticas, recorre ao método das pranchas.
O livro também funciona como uma lufada de renovação – na forma e no fundo - dentro do amestrado ambiente universitário, onde, quando a informação nova vira moda, desfecha reações pavlovianas permanentes, em coro e em cadeia. Quando a linguística e a semiótica entraram na universidade, o que seria uma abertura inicial fechou-se logo num formalismo de missa. Hoje, quem manda na maioria das teses é a praga dos diluidores, dos Greimas e congêneres, de qualquer êmulo das Éditions du Seuil, da revista Tel Quel. É claro que essas publicações lançam autores e trabalhos de interesse, mas o importante é tentar discernir e evitar o auto-amestramento a qualquer pequena moda. Hoje, principalmente nas cadeiras de literatura, quem faz tese sem dar o seu "enfoque" linguístico-semiótico, passa a ser desprezado. Inquisição intelectual ao contrário, fugindo do objeto, que são as próprias obras criativas. A continuar assim, é melhor voltar correndo aos livros de biografia...
Opções drásticas, básicas para a visão contemporânea do problema da linguagem, informação, comunicação: Poe, Valéry, Mallarmé, Pound, Saussure, Peirce, Jakobson e os formalistas russos, Max Bense, Colin Cherry, Merleau-Ponty, Lévy-Strauss, Chomsky e um ou outro mais - o resto é a plêiade de diluidores, na redundância que gera o ruído. Se fôssemos, por exemplo, seguir a teorias das isotopias, há pouco lançada, a leitura de Proust causaria os mesmos efeitos num intelectual de cinquenta anos e num outro de dezoito anos.
Composto como tese de doutorado, em 1973, para o Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo, esse livro também é um chute em cheio no daspianismo de intróitos, súmulas, sumários, itens, subitens, citações ao pé de página – camisa de força a que obrigam os indefesos professores. Esses mesmos professores, cujo calvário (salários baixíssimos, péssimas condições de trabalho etc.) foi, recentemente, descrito com precisão por uma das vozes mais autorizadas, Afrânio Coutinho, no Boletim de Ariel. Um livro para ser pensado e discutido, pois o que se entenderá dentro dele, como erros objetivos, também traduzirá os acertos objetivos na trilha da dialética do conhecimento.
O Estado de São Paulo
15/05/1974