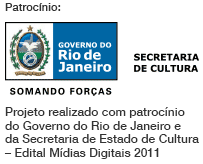Foi só há pouco tempo, graças à iniciativa da Editora Civilização Brasileira, que o Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, emergiu de longo e incrível black-out. Nesta edição, aliás, o Serafim vem junto. com o outro grande romance de Oswald, Memórias Sentimentais de João Miramar (que, isoladamente, já havia sido lançado, há alguns anos, pela Difusão Européia do Livro), ambos precedidos de estudos introdutórios feitos por Haroldo de Campos.
Talvez em têrmos de concepção estrutural, o João Miramar apresente uma arquitetura mais sintética e objetiva, porém, em matéria de tratamento de texto, com uma semântica desalinhada e revolucionária, poucas coisas na prosa moderna, ao nível internacional, igualam ou superam o Serafim Ponte Grande.
No Brasil, nada, nada, nada, com exceção, por outras veredas experimentais, de Guimarães Rosa (principalmente o Grande Sertão e Tio lauaretê).
Oswald, em seu romance, não apenas forja as situações debochadas e chocantes, mormente tomando-se em conta a época do livro. Em função da linguagem, desarticula tôda uma sistemática gramatical, tanto na verbalização, como em gêneros ou categorias. Também monta e aglutina palavras, ao mesmo tempo em que elabora uma estrutura temporal antilinear e fora de qualquer conceito clássico de clímax ou crescendo. Pelo contrário, os climaxes são os delírios inventivos com a linguagem. E uma espécie de absurdo pré-tropicalista.
Não poderíamos permanecer apenas na linhagem do mot juste do narrador ou do descrevedor, que, no Brasil, começou com Machado e acabou com Graciliano Ramos. São duas estátuas no meio do caminho. As próprias consequências do processo (aquilo que, segundo Whitehead, é a permanência do infinito nas coisas finitas) foram que determinaram isso, ou seja, uma crise (pelo menos aparente) do simples ato de contar uma história, tomando-se tal em têrmos criativos, especulativos, da gratuidade essencial que caracteriza a obra de arte, daquela prosa pura, como era, por exemplo, a de Alexandre Dumas, dotada de completa transparência semântica, quer dizer, os leitores não se deleitavam, não paravam nas palavras - a imaginação logo se deslocava de sua materialidade, em direção da seta referencial. A crise da prosa mexeu logo com o conceito de tempo, linearidade, cronologia de eventos e foi chegar à palavra (mais próxima portanto da poesia). Depois do esgotamento dos recursos, operados por Proust, Joyce, Kafka ou Faulkner, veio a noção de crise do romance. O nouveau roman francês tentou enfrentá-la, justificando-se através daquilo que alguns dos seus principais representantes, como Michel Butor ou Nathalie Sarraute,
entendiam, não mais como realismo, e, sim, como realidade da linguagem.
Numa época em que ainda não se desconfiava de nada, Oswald, com seus romances, deu um salto pra frente e tornou-se precursor do impasse.
O fenômeno Guimarães Rosa (o grande fabulista nacional, numa montagem de Joyce e regionalismo, além de muita vivência) constitui fator isolado: a sua influência imediata, a repetição aproximada de sua técnica só criará uma miríade de rosinhas. No assunto, são muito mais estimulantes as extraordinárias traduções de Joyce para o português: o Ulisses, de Antonio Houaiss, e o Panaroma do Finnegans Wake, de Augusto e Haroldo de Campos. Ou então ainda de Haroldo de Campos, o seu work in progress, as Galáxias, com alguns trechos já traduzidos na França (revista Changes), além da boa experiência que foi Pan América, de José Agripino de Paula.
É claro, existem exceções do narrador em si: há Jorge Amado, Antônio Callado, Clarice Lispector, Érico Veríssimo, Dalton Trevisan, Carlos Heitor Cony (que, com O Ventre, fêz o nosso maior romance sartreano) ou o estalo de Nelson Rodrigues, em O Casamento, que embora trabalhando apenas sôbre o léxico, foi radical à la Oswald. Mas, com o tempo, as exceções vão diminuindo e a medida quantitative fornece a qualificação do contexto e do processo. E o que é importante em livros, como o Serafim, além da experiência criativa, reside em fazer despertar uma tomada de consciência.
Correio da Manhã
08/01/1972